Primeiro, os preços subiram, subiram, subiram. Depois, a alta perdeu força. E agora? É hora de comprar? De vender? ÉPOCA traz um roteiro completo para você se orientar no efervescente mercado imobiliário
Já fazia tempo que a economista Andrea, de 39 anos, e o engenheiro Marcio Dualibi, de 46, planejavam mudar de casa. Com dois filhos,o apartamento em que moravam, de 120 metros quadrados e três dormitórios, no bairro da Vila Leopoldina,Zona Oeste de São Paulo, estava pequeno. A ideia era comprar outro apartamento, de 170 metros quadrados num condomínio da região. No fim de 2007, quando surgiu um comprador oferecendo R$ 360 mil pelo imóvel deles, não hesitaram em vendê-lo, embora ainda faltassem R$ 70 mil para comprar o novo apartamento. Como os preços dos imóveis usados pareciam estáveis, decidiram adiar a compra e aplicar o dinheiro para tentar ganhar a diferença. E foram viver num apartamento alugado, ainda menor.
O resultado não foi o esperado. Os preços dos imóveis dispararam. Assustados, Andrea e Marcio sacaram o dinheiro do banco para tentar comprar o que fosse possível. Em agosto de 2008, fecharam negócio num apartamento em construção, de 140metros quadrados, numa rua menos valorizada do bairro. Pagaram R$ 460mil – R$ 100 mil a mais do que ganharam na venda do primeiro. Pagaram à vista, com desconto. Ainda assim, tiveram de vender um carro – um EcoSport do ano – e sacar o que tinham acumulado no Fundo de Garantia. O apartamento demorou dois anos e meio para ficar pronto, período em que precisaram pagar aluguel. Hoje, de acordo com Marcio, o apartamento que ele e Andrea venderam por R$360 mil vale R$ 550 mil, o preço do novo. E o apartamento que planejavam comprar, de R$ 450 mil, agora custa R$ 750 mil – uma alta de 66% em três anos. “Não era o que a gente queria”, diz Marcio. “Mas, depois de tanta confusão, não foi tão ruim.”
O drama vivido por Andrea e Marcio é reflexo da violenta explosão ocorrida nos preços dos imóveis nos últimos anos. É provável que em nenhum outro momento eles tenham subido tanto em tão pouco tempo. A valorização, maior aqui, menor ali, espalhou-se por todo o Brasil, das grandes metrópoles aos pequenos vilarejos de beira de estrada e à zona rural. O poder de compra de quem tinha um imóvel se manteve ou cresceu com a valorização. Mas quem ainda pretende comprar uma casa terá de se conformar, agora, em morar num lugar menos valorizado, como Andrea e Marcio, ou num imóvel menor do que poderia comprar alguns anos atrás. “Os preços estão lá em cima”, diz Luiz Paulo Pompéia, diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), especializada em pesquisas imobiliárias. “Não sei aonde vão parar.”
Na atual onda de valorização, nem todo mundo foi pego de surpresa. Houve quem lucrou – e muito. Graças à alta dos imóveis, o Rio de Janeiro ganhou 60 mil novos milionários, segundo uma pesquisa do Secovi fluminense, a entidade que reúne os empresários do setor no Estado. São proprietários que, da noite para o dia, viram seus imóveis ultrapassar o valor de R$ 1 milhão e se tornaram uma espécie de novos-ricos do mercado. Muitos investidores aproveitaram para comprar imóveis na planta e revendê-los, com lucro. Mesmo quem não tinha capital para fazer isso sozinho conseguiu reunir amigos para investir – numa antiga prática que caíra em desuso e agora ressuscitou.
Até investidores estrangeiros, como Sam Zell, um magnata do mercado imobiliário americano, colheram lucros no Brasil, comprando fatias em grandes empresas do setor e se beneficiando da alta na Bolsa. Segundo uma pesquisa da Associação dos Investidores Estrangeiros em Imóveis, o Brasil ultrapassou a China e apareceu como o destino preferido em todo o mundo para negócios imobiliários, em 2011. “O pessoal diz que apenas 5% das vendas no país são feitas para investidores, que não estão comprando o imóvel para morar”, diz Pompéia. “Mas a parcela de investidores é bem maior.”
Como em qualquer mercado, a questão crucial não é saber quanto os preços já subiram, mas se eles ainda subirão mais – ou se cairão de repente. A alta já bateu no teto? Essa valorização é sustentável ou artificial? É hora de comprar? De vender? A seguir, apresentamos um breve roteiro para você se orientar no universo imobiliário. Não se trata de um trabalho exaustivo nem temos a pretensão de responder de modo conclusivo a todas as questões – que, no fundo, dependem de fatores incontroláveis. Esperamos, apenas, que nossas respostas ajudem cada um a tomar decisões melhores.

NO CONTRAPÉ
A economista Andrea, de 39 anos, e o engenheiro Marcio Dualibi, de 46, queriam comprar um apartamento de 170 m2, com três dormitórios, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, para morar com os dois filhos. Não conseguiram. O apartamento, que custava R$ 450 mil no fim de 2007, hoje vale R$ 750 mil. A aplicação que eles tinham no banco não acompanhou a valorização imobiliária. Em meados de 2008, acabaram comprando um apartamento em construção de 140 m2 numa rua menos valorizada da mesma região, também com três dormitórios, por R$ 460 mil. O imóvel, entregue em 2010, agora vale R$ 550 mil
1 - POR QUE O PREÇO SUBIU TANTO? Num estudo encomendado pela Abecip, entidade que reúne os bancos que atuam em crédito imobiliário, o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica no governo FHC, sustenta que a valorização dos imóveis é resultado de uma conjunção inédita de fatores. Primeiro, houve a consolidação da estabilidade econômica, que facilitou o planejamento de longo prazo. Mais recentemente houve um aumento do emprego e da renda, que ampliou a demanda por imóveis. A classe média, com 95 milhões de pessoas, tornou-se predominante. A renda da população, segundo o estudo, vem subindo na faixa de 6% ao ano acima da inflação – tendência que deverá ser mantida até 2014. “Mesmo que os preços subam, em média, 11% ao ano, o crescimento da renda poderá absorver o aumento”, diz Luiz Antonio França, presidente da Abecip.
 |
Além disso, o crédito imobiliário explodiu. De 2005 a 2010, ele cresceu 13 vezes, de R$ 4 bilhões para R$ 57 bilhões, de acordo com a Abecip. Os prazos dos financiamentos, antes restritos a dez ou 15 anos, agora chegam a 30 anos. “O país está perdendo o medo de financiar”, diz Fabio Nogueira, fundador e sócio da Brazilian Finance & Real Estate, que atua no financiamento ao consumidor e na captação de recursos para empresas do setor. Isso permitiu uma redução significativa nas prestações e reforçou ainda mais a demanda, já inflada pela carência de 6 milhões de moradias do país. Imóveis que exigiam comprovação de renda de R$ 4 mil mensais agora podem ser financiados por quem ganha R$ 1.500. E, nos imóveis de até R$ 500 mil, é possível usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abater até 80% da prestação.
Os juros, embora ainda altos para os padrões globais, caíram bastante nos últimos anos – e devem cair mais no médio prazo, mesmo que subam um pouco em 2011. Essa queda levou a uma redução ainda maior das prestações e permitiu que o consumidor absorvesse o aumento de preços quase sem sentir. “Hoje, qualquer um consegue comprar um apartamento”, afirma o engenheiro Meyer Joseph Nigri, fundador e presidente da Tecnisa, uma das maiores construtoras do país. “Com R$ 100 por mês, compro um celular de R$ 1.000. Com R$ 500, compro um apartamento de R$ 100 mil.”
Foi graças a esse quadro favorável que brasileiros como o microempresário baiano Cleber Manoel Correia, de 44 anos, conseguiram comprar o primeiro imóvel em 2010 – no caso dele, um apartamento de R$ 330 mil, com 100 metros quadrados e três dormitórios, na Vila Laura, região central de Salvador. O imóvel, ainda em obras, só deverá ser entregue no fim de 2013. Mas Correia já conta os dias para se livrar de seu aluguel, de R$ 400. Casado, três filhos crescidos, dois dos quais moram com ele, ele deverá pagar 40 parcelas de R$ 830 e três parcelas intermediárias de R$ 6 mil, no total de R$ 51.200, durante a obra. Depois, diz que ainda decidirá com a mulher, Antonia, também de 44 anos, e seus filhos se reforçará a entrada para reduzir o valor do financiamento ou se financiará todo o saldo. “Antes, era complicado comprar um imóvel”, diz Bruno Correia, de 23 anos, o filho do meio, que ajuda o pai nos negócios e é o proprietário oficial do imóvel. “Agora, ficou muito mais fácil.”
Até os mais ricos estão recorrendo ao crédito. Muita gente está aproveitando para fazer um “upgrade”, dando o valor do imóvel atual como entrada. Segundo a imobiliária Coelho da Fonseca, de São Paulo, voltada para o público de alta renda, só 10% das vendas eram financiadas há três anos. Hoje, são 60%. “Acabou a história de que comprar imóvel financiado é para quem não tem dinheiro”, diz Walter Sita, diretor-geral de vendas da empresa. “Tem muito executivo tomando dinheiro na faixa de 10,5% ao ano para comprar imóveis de R$ 2 milhões, R$ 3 milhões, R$ 5 milhões em 20 ou 30 anos.”
A explosão dos preços é, portanto, resultado do aumento no crédito e na demanda. Em São Paulo, um levantamento da Embraesp mostra que o metro quadrado dos imóveis novos residenciais subiu 175%, em média, de 2000 até novembro do ano passado, último dado disponível. Só em 2010 a alta chegou a 32,8%, sem contar dezembro. Segundo a Global Property Guide, uma empresa britânica que pesquisa imóveis em todo o mundo, São Paulo ficaria em primeiro lugar no ranking dos países com a maior valorização imobiliária, com alta média de 33,5% em 12 meses (de outubro de 2009 a setembro de 2010). Em 24 meses, São Paulo também estaria no topo do pódio, com alta de 46,4% (leia os gráficos nas páginas 48 e 49). Os imóveis usados subiram um pouco menos, segundo uma pesquisa feita pelo Creci paulista com 529 imobiliárias locais. Mas, em alguns casos, eles também tiveram valorização espetacular. Um apartamento de 140 metros quadrados e três dormitórios em Perdizes, um bairro paulistano de classe média alta, foi vendido por R$ 320 mil há três anos. Hoje, vale R$ 650 mil, mais que o dobro, diz a ex-proprietária.
Boa parte da alta nos preços locais foi provocada, segundo Pompéia, da Embraesp, pela valorização dos terrenos. Ela teria ocorrido em razão da disputa entre as grandes construtoras e incorporadoras que abriram o capital e estavam com o caixa cheio. Segundo João Batista Crestana, presidente do Secovi de São Paulo, o preço do terreno representava 20% do custo de um empreendimento até há pouco tempo. Agora, chega a 50%, conforme a localização – mesmo levando em conta que mão de obra e material de construção também subiram. “Quando as empresas abriram o capital, houve uma correria escandalosa por terrenos para futuros investimentos”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do Creci paulista. O cenário de São Paulo repetiu-se em todo o país:
- no Rio de Janeiro, pelos dados do Secovi fluminense, o preço de um apartamento de dois quartos em Copacabana aumentou 220% entre 2000 e 2009;
- em Brasília, segundo a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), o metro quadrado teve alta média anual de 25% desde 2005;
- em Salvador, o preço do metro quadrado no bairro de Alphaville, um dos mais valorizados, subiu 54% desde 2007;
- no campo, o preço das terras aumentou, em média, 42% nos últimos três anos em todo o país, de acordo com a Agroconsult, uma consultoria de agronegócio.

ENFIM, A CASA PRÓPRIA
O microempresário baiano Bruno Nascimento Correia, de 23 anos, conseguiu comprar o primeiro imóvel no ano passado graças a um financiamento de longo prazo. O imóvel, de 100 metros quadrados e três dormitórios, na Vila Laura, perto do aeroporto em Salvador, só deverá ser entregue no fim de 2013. Mas ele já conta os dias para se ver livre do aluguel de R$ 400 que paga hoje para morar com a mãe, Antônia, o pai, com quem ele trabalha, e o irmão mais novo. “Antes era complicado comprar um imóvel”, afirma. “Agora, ficou muito mais fácil”
2 - A ALTA CHEGOU AO FIM? Nos últimos meses, depois de cinco anos de alta, surgiram sinais de acomodação no mercado. Segundo uma pesquisa do Secovi de São Paulo, o volume de vendas dos imóveis novos em relação à oferta teve uma ligeira queda, de 26,4% do total, em setembro, para 23,5%, em outubro, último dado disponível. Outro levantamento, do Creci paulista, entidade que congrega os corretores, mostrou queda de 25% no número de imóveis usados vendidos no Estado em outubro. Dados mais recentes mostram que as vendas voltaram a subir, mas não o suficiente para retomar o nível de agosto. E, segundo o Sinduscon, o sindicato da indústria da construção civil, o setor deverá crescer “apenas” 6% em 2011, a metade de 2010. “Já houve uma boa valorização e está na hora de tomar algum cuidado”, diz o economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica no governo Lula e ex-diretor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Empresarial (Iedi).
No mercado imobiliário, é crescente a percepção de que os preços podem estar próximos do teto permitido pela renda do consumidor. “O bolso é o limite – e esse limite está perto”, afirma Crestana, do Secovi paulista. Mesmo assim, a previsão é de que ainda haja espaço para novas altas por causa da forte demanda e da saturação nas grandes cidades. Não se espera, porém, que se repita o que ocorreu nos últimos anos. A exceção seriam as áreas de alto padrão, onde bons terrenos são raridade, como a Praça Pereira Coutinho, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, ou o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. “Muitos investidores apostam que os preços subirão mais, mas não sabemos. Já tem gente com medo de não vender o que construir”, diz Pompéia, da Embraesp.
Os preços ainda estão baixos, se comparados aos do exterior. Segundo França, da Abecip, o metro quadrado de um imóvel novo no Brasil custa US$ 1.600. Em Nova York, US$ 16 mil; em Paris, US$ 13 mil; em Madri, US$ 3.400; e na Cidade do México, US$ 1.800. Mas a expectativa é que, se houve excessos, o próprio mercado se ajustará, de acordo com a oferta e a demanda. “Ninguém vai lançar um imóvel a um preço em que não haja demanda”, diz Antonio Carlos Ferreira, diretor superintendente da construtora e incorporadora Gafisa. “Pode ofertar, mas não vai vender.”
A questão é que é muito difícil fazer uma avaliação precisa. Hoje, a maior parte das pesquisas sobre os imóveis no Brasil tem um enfoque regional e está centrada no número de lançamentos e na velocidade de vendas, não nos preços. Há pouquíssimas pesquisas de preços. E, quando elas existem, cobrem só uma cidade ou uma região metropolitana. Ao contrário de outros países, o Brasil não tem um índice nacional de valorização dos imóveis. Isso preocupa o Banco Central e o Ministério da Fazenda, que pediram ajuda aos bancos para desenvolver um novo indicador. Ele é crucial. Basta lembrar que a atual crise financeira global surgiu com o estouro de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos – e ninguém quer ser acusado de ter permitido a repetição do problema aqui. “Estamos tentando formatar esse índice para ter uma informação rica sobre a valorização imobiliária no país”, diz França, da Abecip. “Ele deverá nortear as decisões de governo, agentes financeiros, empresas e até investidores.”
3 - HÁ UMA BOLHA IMOBILIÁRIA? Não. Entre os profissionais que atuam na área, a visão predominante é que o mercado brasileiro vive um ciclo virtuoso, capaz de se prolongar por muitos anos. A desaceleração recente seria passageira. Como num jogral bem ensaiado, a maioria rejeita qualquer insinuação de que, no Brasil, exista uma bolha imobiliária similar à que ocorreu nos EUA e em outros países. O estudo coordenado pelo economista Mendonça de Barros também sustenta enfaticamente a tese de que não há uma bolha imobiliária em formação no país. Aqui estaria havendo um processo saudável de crescimento do setor, que ficou estagnado por muito tempo. Lá fora, a valorização era turbinada pelo crédito fácil e pela expectativa irreal de que os preços subiriam sem parar. No Brasil, ela estaria baseada numa demanda sólida e em critérios rígidos para a concessão de financiamentos. Nos EUA, o crédito chegava a 110% do valor do imóvel, sem comprovação de renda. Aqui, os bancos financiam, no máximo, 80% do total. “O cenário é espetacular”, diz Nigri, da Tecnisa. “A sensação é que estamos no começo da festa, não no fim.”
No Brasil, os preços dos imóveis também não se descolaram dos outros ativos, como no exterior. A valorização estaria apenas compensando o período em que eles subiram menos que as demais aplicações, nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. Num período de dez anos, os imóveis ainda ofereceram um ganho menor que a Bolsa e outras aplicações. “Fazia tempo que os preços não se moviam, até por causa dos juros altos”, diz José Roberto Machado, diretor de crédito imobiliário do banco Santander.
O setor imobiliário também deverá ser beneficiado pela demografia, de acordo com um estudo das consultorias Ernst & Young e FGV Projetos. A população brasileira, hoje na faixa de 190 milhões, deverá chegar a 234 milhões em 2030. O número de famílias deverá passar de 60 milhões para 95,5 milhões – 1,8 milhão a mais por ano. E a idade média da população, hoje de 29 anos, vai subir para 36. A faixa de 25 anos ou mais, onde se concentram os compradores de imóveis, aumentará de 36% para 42% do total.
Não é de estranhar, portanto, o otimismo de quem trabalha no setor. “Eu achava que não veria isso acontecer – e tinha dúvidas se meus filhos veriam”, afirma Ubirajara Spessotto, de 50 anos, diretor-geral da Cyrela, outro gigante dos imóveis no país. “Estou há 33 anos no mercado imobiliário e nunca tinha visto nada igual. Nos anos 80, todo mundo corria para os imóveis para se proteger da inflação. Agora, o mercado está subindo com lógica e consistência”, diz Nigri, da Tecnisa.
4 - HÁ RISCO DE QUE SE FORME UMA BOLHA IMOBILIÁRIA? Sim. Embora concorde que não há uma bolha em formação no país, o economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida diz que o governo deve ficar atento para evitar que o atual boom imobiliário se transforme numa bolha. Ele afirma que, com a perspectiva de novas quedas dos juros nos próximos anos, poderá haver uma nova valorização dos imóveis. “Há a impressão de que um crescimento rápido do setor só tem pontos positivos – e não é verdade. Uma bolha entorpece a visão, como um lança-perfume. Mas, na hora da verdade, não pede licença para entrar.”
Em sua opinião, o Brasil é propenso à formação de uma bolha imobiliária porque o brasileiro em geral é consumista, o sistema bancário é ágil e as construtoras são capazes. Para ele, os políticos tendem a resistir à adoção de medidas que afetem o crescimento de um setor que gera empregos e tem forte impacto na economia. “Todo mundo pode achar que a valorização dos imóveis é insustentável, mas os políticos podem não querer interrompê-la porque é fonte de voto, os sindicatos também não, porque é fonte de emprego, e as empresas e os bancos também não, porque é fonte de lucro.”


Nos EUA, foi a política populista oficial, centrada na ideia de que a casa própria deve ser acessível a todos, que inflou a bolha imobiliária que jogou o país (e o mundo) na maior crise econômica desde a depressão dos anos 1930. Uma série de medidas adotadas pelo governo americano, com o apoio do Congresso, estimulou o crédito a um número cada vez maior de compradores, mesmo a quem não tinha como comprovar renda para pagar as prestações. As agências financeiras Fannie Mae e Freddie Mac, subsidiadas pelo governo, receberam incentivos para comprar dos bancos um volume cada vez maior de financiamentos para as faixas de menor renda. Isso levou os bancos a mudar o perfil dos mutuários para conseguir repassar suas carteiras às duas agências. Resultado: a demanda por imóveis explodiu, os preços subiram – e muitos mutuários se deram conta de que não poderiam honrar as prestações.
A inadimplência aumentou. A retomada de imóveis por falta de pagamento também. Ao mesmo tempo, a demanda perdeu força. Os preços, que haviam quadruplicado em dez anos, começaram a cair, afetando o valor das garantias bancárias. Ficou complicado para os bancos rolar no mercado a papelada lastreada nas hipotecas. As agências Fannie Mae e Freddie Mac só não quebraram porque sofreram intervenção do governo. Calcula-se que, no total, as duas instituições custarão US$ 400 bilhões em dinheiro dos contribuintes. “O maior engano é achar que a crise no mercado imobiliário aconteceu por falta de regulação”, diz o economista Thomas Sowell, da Universidade Stanford, autor do livro The housing boom and bust (O boom da casa própria e a crise). “Foi justamente a ação do governo que levou ao relaxamento dos padrões de avaliação de risco dos bancos e à venda de casas para muita gente que não podia pagar.”
Guardadas as proporções, esse é o risco que ronda o programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo federal em 2009. Restrito a bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ele oferece subsídio para a casa própria de famílias com renda de até dez salários mínimos. Também prevê a redução de impostos para a produção de imóveis destinados às faixas de menor renda. Quem ganha até três salários mínimos deve pagar uma prestação a partir de R$ 50 e de, no máximo, até 10% da renda familiar, por um prazo de dez anos.
Por trás da causa nobre, os problemas que aconteceram nos EUA já começaram a se repetir por aqui. Em Feira de Santana, na Bahia, no primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida à população, a inadimplência está alta, pois boa parte dos moradores ganha apenas o benefício do Bolsa Família. O calote preocupa o governo. Há o receio de que isso se repita em outros locais. No conjunto habitacional de Feira, que recebeu duas visitas do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi apresentado como modelo no programa de TV da presidenta Dilma Rousseff na campanha eleitoral, houve a venda ilegal de dezenas de unidades pelos moradores originais. “Todos os apartamentos irregularmente vendidos serão retomados, como prevê o contrato”, diz uma nota conjunta divulgada pela Caixa e pelos ministérios do Planejamento e das Cidades, responsáveis pela execução e fiscalização do programa.
Talvez o maior problema do Minha Casa Minha Vida tenha sido o impacto perverso que ele teve nos preços dos terrenos nas periferias das grandes cidades. Já ficou difícil produzir unidades para baixa renda dentro do limite do programa, de até R$ 130 mil. O mercado já reivindica um aumento para “destravar” a produção. A presidenta Dilma anunciou que atenderá ao pleito. Espera-se que o reajuste eleve o teto para algo entre R$ 150 mil e R$ 170 mil – um aumento de 15% a 30% em apenas dois anos. “O próprio governo está estimulando a alta no preço dos terrenos com os subsídios do Minha Casa Minha Vida”, diz Viana Neto, do Creci.
Segundo o economista Gomes de Almeida, o governo deveria criar, desde já, mecanismos para restringir o crédito imobiliário e conter a demanda, caso a valorização continue em ritmo acelerado. Uma opção seria aumentar a exigência de capital para os bancos fazerem empréstimos na área. Outras seriam aumentar o valor mínimo da entrada ou reduzir os prazos de financiamento. “O importante é ter cartas na manga para poder virar o jogo.” Na China, onde é maior o temor de bolha imobiliária, os preços subiram bem menos que no Brasil nos últimos anos. Isso não impediu as autoridades de tomar medidas para conter o crédito, como a adoção de restrições para uma segunda hipoteca.
Os gargalos do setor impedem um aumento significativo da oferta no curto prazo
No fim de 2008, o Brasil teve uma amostra do que pode ocorrer numa situação como essa. A crise global se aprofundou e afetou o setor imobiliário aqui. Da noite para o dia, a demanda por imóveis murchou. Grandes construtoras e incorporadoras com estoques elevados de terrenos e apartamentos tiveram problemas. Houve várias fusões. “As curvas de venda daquele período eram aterrorizantes”, afirma Nogueira, da Brazilian Finance. Pouco depois, porém, a economia se recuperou, a confiança do consumidor voltou e as vendas cresceram de novo, eliminando os temores de uma crise mais grave na área.
No mercado imobiliário, fala-se muito sobre a força da demanda, mas muito pouco sobre a carência da oferta. Por mais ágeis e eficientes que sejam as empresas do setor, elas não têm como absorver a demanda atual. Embora a produção de novas unidades tenha crescido significativamente, a oferta ainda é bem menor que a procura. Segundo Spessotto, da Cyrela, seria necessário lançar 90 mil unidades por ano só na Grande São Paulo apenas para compensar o crescimento vegetativo da população, estimado em 1,5% ao ano. O recorde de produção, de 2007, é de 69 mil unidades. Em 2010, a oferta não passou de 65 mil unidades. Na capital paulista, o estoque de imóveis novos, que chegava a 22 mil unidades, em média, em 2005, agora não passa de 10 mil. Isso favorece o aumento do lucro das empresas do setor. Mas provoca uma tremenda inflação no preço dos imóveis, como a dos últimos anos. “A oferta está chegando, mas não em volume suficiente”, diz Antonio Guedes, diretor-geral da Living, empresa do grupo Cyrela voltada para a faixa de menor renda. “O pessoal está pagando quanto pedem. Isso não é bom para o país”, afirma Viana Neto, do Creci.
Ainda que as empresas quisessem aumentar a oferta, isso não seria possível por causa dos gargalos no setor. Falta de tudo: mão de obra qualificada (de pedreiro a engenheiro), máquinas e até material de construção. Há construtoras e incorporadoras criando “universidades corporativas” e montando programas de treinamento para formar trabalhadores. “Hoje a indústria da construção tem dificuldade para fazer seus projetos virar oferta”, diz Cristiane Amaral, sócia da Ernst & Young, especializada na área.
Os bancos dizem que o aumento do crédito não deveria ser visto como problema. De acordo com eles, os financiamentos imobiliários no Brasil ainda equivalem a apenas 4% do Produto Interno Bruto (PIB). No Chile, chegam a 15%. Nos EUA e na Espanha, a 60%. Mas, conforme a velocidade de expansão, pode haver desequilíbrio se a produção não crescer no mesmo ritmo. “Se os juros caírem no médio prazo, levando a um aumento nos financiamentos, o governo terá de agir”, diz Gomes de Almeida.
Há, ainda, outro ponto importante. No ritmo atual de aumento do crédito, os recursos da caderneta de poupança, hoje a principal fonte de financiamento imobiliário, deverão se esgotar até 2013. Até lá será preciso buscar novas fontes para financiar a produção de novos empreendimentos e os empréstimos aos compradores. “Não dá para depender só de uma fonte”, diz França, da Abecip. “Precisamos criar novas formas de captação para girar o estoque de financiamentos”, afirma Ana Maria Castelo, pesquisadora da FGV Projetos.
Se o mercado imobiliário esfriar, os temores de superaquecimento poderão se dissolver. Só que isso pode não acontecer. O mais prudente é não ignorar os avisos. Um mercado imobiliário dinâmico é indispensável para o Brasil continuar a crescer com vigor – e ninguém quer abortar esse processo. Mas isso não pode levar à formação de uma bolha com alto potencial de destruição. A crise imobiliária nos EUA e em outros países deixou lições preciosas para o Brasil não cair na mesma armadilha.

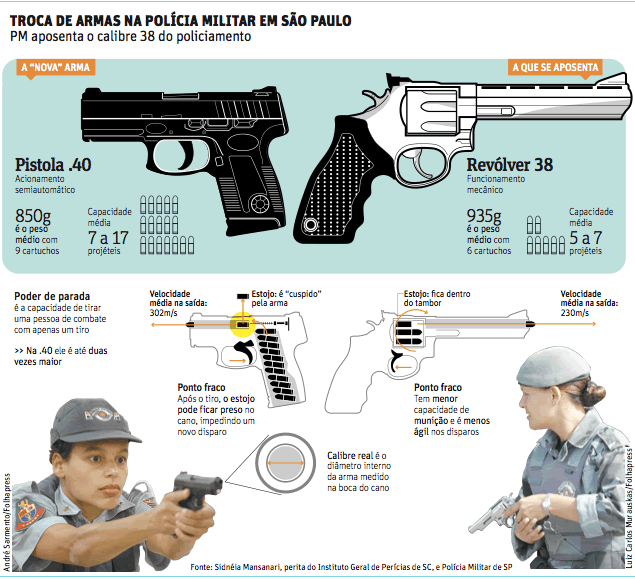

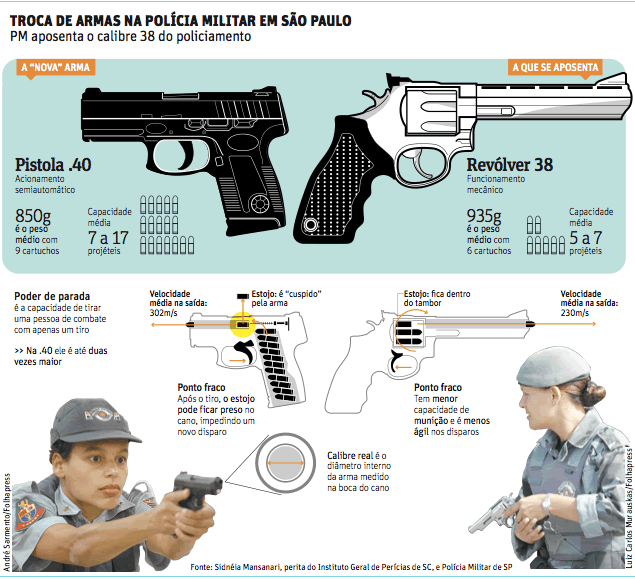
![]()

![]()









![]()
![]()











![]()